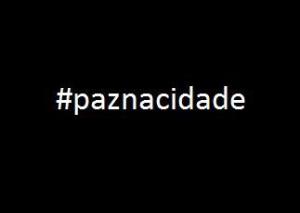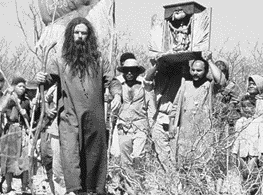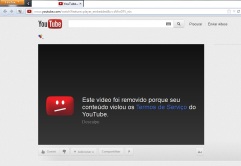Henrique França
@RiqueFranca

Piquenique possível depois da abertura da ciclofaixa de lazer em João Pessoa. (Foto: Paulo César Lopes)
João Pessoa, do alto de seus 428 anos, ganhou há pouco mais de duas semanas sua primeira ciclofaixa de lazer. É algo, sem dúvida, a ser comemorado. Afinal, há um punhado de anos não se vê nesta que foi chamada um dia de “segunda cidade mais verde do mundo” ou “capital da tranquilidade” uma iniciativa pública que proporcionasse, de fato, o reencontro do cidadão pessoense com seu espaço urbano de forma tão simples, direta, saudável e não agressiva. Muito menos verde e muitíssimo menos tranquila, a capital paraibana tem assistido nos últimos anos ao desmoronamento de suas características provincianas (não confundir com atraso urbano) confundindo progresso com edifícios, modernidade com engarrafamentos e lazer com shoppings centers cada vez mais monótonos.
Porém, eis que surge uma ciclofaixa ligando a Praia ao Centro da cidade, a classe média-alta ao morador de rua das vielas do centrão, o pedreiro que pedala a Barra Forte e o empresário em sua Cannondale, o vendedor de picolé e a socialite, o skatista e a família que se reúne na grama ao redor da Lagoa pra observar o cartão-postal por um ângulo jamais visto, sem a grita dos automóveis, sem os carros de som das lojas, mesmo que essa bela Lagoa esteja poluída, sofra de um descaso ainda velado. A ciclofaixa de lazer instalada pela Prefeitura de João Pessoa é uma artéria que bombeia sangue novo na cidade – longe do “sangue azul” que circula pela ciclovia da orla, onde o desfilar sobre pedais dá o tom do passeio. A pulsação desse espaço é multicor, democrática, e por isso tem mais a cara da cidade.
Há muito a mobilidade urbana em João Pessoa tem se mostrado caótica e desajustada, desconectada com as tendências mundiais de países onde já se errou muito no conceito “cidade para carros” e que agora apresentam um movimento reverso, abrindo espaços para o transporte coletivo, não motorizado, para o pedestre prioritariamente. Cidades para pessoas é a tônica. Londres, Nova Iorque, Portland, Bogotá, Amsterdã, entre tantas outras, estão aí para apontar os caminhos que a capital paraibana como cidade pequena, ordeira, tranquila e verde que deveria ser, poderia seguir. Afinal, por que seguir um caminho historicamente fadado ao erro? Por isso, mesmo que minimamente representativa nesse contexto de mobilidade urbana, a ciclofaixa de lazer é um acerto, um ponto que precisa ser ressaltado e valorizado.
Porque mobilidade urbana não é a capacidade de seu carro trafegar em uma avenida fluida, com asfalto novo e com poucos semáforos. Muito menos a possibilidade de satisfazer a sanha de provar os milésimos de segundos que levam seu “carrão” de zero a cem – para isso, procure uma pista de corridas. Na Lei, no Código, na lógica, a prioridade não está na máquina motorizada, mas na máquina gente, carne e osso. Uma cidade que tem mais metros quadrados de asfalto do que de calçadas padece dessa compreensão não respeita seus cidadãos como deveria. Uma cidade que se deixa desconfigurar em prol do progresso predial desordenado não tem visão de futuro, largou o tema “qualidade de vida” na mesma gaveta de onde tirou a “qualidade dos investidores”.
A ciclofaixa é um grito em meio a esse processo de desmonte urbano. Um grito muitíssimo tímido, também. Dominical. Afinal, sua instalação se dá somente no período das 7h às 16h, tirando a possibilidade de aproveitar o final da tarde em família, entre amigos, sobre duas rodas. Por que não tornar definitiva a ciclofaixa na cidade – que não mais seria apenas “de lazer”, mas se instalaria como um espaço democrático de ocupação do espaço urbano entre coletivos, veículos automotores particulares e ciclistas? Absurdo! – alguns dirão. Uma simples balança ou um olhar democrático comprovariam que não. Primeiro, o olhar democrático: imagine se seu carro só pudesse trafegar na avenida em horários pré-determinados. E se as avenidas fossem fechadas para carros particulares, dando exclusividade aos ônibus e bicicletas? (únicos veículos, aliás, foco de apoio financeiro pelo Governo Federal, através do PAC da Mobilidade).
Sobre a balança, uma equação simples se impõe: 22% da população de João Pessoa usa carros particulares, veículos próprios, enquanto 78% utiliza ônibus, bicicletas ou anda a pé. Se democratizar implica em equilibrar, por que a prioridade de investimentos, de espaços, de regalias, de uso do solo comum é para os carros, em número muitíssimo menor nesse cenário? A ciclofaixa de lazer precisa ser mantida, expandida, respeitada e valorizada. É o mínimo de equilíbrio que se pode oferecer à ex-capital da tranquilidade.